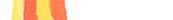Edificio
A escada de serviço do prédio onde moro é tão estreita que nem faz sentido colocar uma pilastra de sustentação no meio, é tão pouca a massa pra sustentar que só as paredes já resolvem. E apesar de espremida e baixa, eu geralmente prefiro usá-la ao elevador social, porque moro no primeiro andar. Às vezes, gosto de chegar na garagem e arremessar o chaveiro pela janela que dá pra escada de serviço, tentando acertar no buraco do meio, onde deveria estar a pilastra de sustentação que não há. É difícil descrever a geografia do arremesso, é um cenário muito específico. Mas tenha certeza de que acertar o alvo é um desafio, tanto porque o buraco, assim como a escada, é estreito, quanto pelo ângulo que a janela oferece. Precisa calcular não só o local exato da queda, como o vértice aproximado da curva de lançamento, para o chaveiro não bater em nenhum obstáculo no caminho.
Eu sou um bom arremessador. Tenho mantido uma média de cerca de 50% de sucesso desde que voltei da Alemanha. Mas estou constantemente errando também. Há quatro formas de errar, dependendo do grau de imperícia e de onde o chaveiro aterrisa. São elas:
- o molho de chaves não ultrapassa nem a janela. Isso costuma acontecer depois de três ou quatro acertos consecutivos, quando eu começo a me considerar invencível e passo a arremessar displicentemente.
- o chaveiro ultrapassa a janela, mas não atinge o buraco, batendo no corrimão da escada ou no teto.
- o chaveiro ultrapassa a janela e cai pelo buraco, mas como o arremesso não é preciso, acaba batendo em alguma parede lateral que desvia o trajeto.
- o arremesso é tão forte que o molho de chaves passa zunindo pela janela, corrimão, buraco, teto, e vai parar no segundo andar.
Esse último ocorre muito raramente, tanto pela força desproporcional que exige quanto pela fresta espremida que o chaveiro tem que achar pra chegar no andar de cima. E buscar as chaves no andar de cima responde pela quase totalidade das vezes que eu fui além do primeiro andar no meu prédio. Eu não gosto de visitar os vizinhos. Eu não sei direito quem são os meus vizinhos, a maioria das pessoas que circula na portaria pode se declarar morador ou visita, eu não teria como contra-argumentar. Um dos que eu conheço é o Adalberto, o velhinho do segundo andar, mas quando passo por ele no térreo sempre confundo os nomes e acabo hesitando em cumprimentá-lo com mais eloqüência, para não correr o risco de chamá-lo de seu Aderbal, como quase sempre me escapa. Conheço também o Sérgio, do sétimo andar, que tem uma filhinha pequena com quem minha irmã ia brincar, quando era mais nova. Algumas das pouquíssimas (duas? três?) vezes que ultrapassei o primeiro andar foi pra levá-la no apartamento da amiga.
Mas apesar de quase nunca subir pra outros andares, tenho certeza de que já estive mais alto que a grande maioria dos moradores do prédio. Já cheguei ao topo do edifício. É um lugar de acesso complicado. Tem-se que subir pelo elevador de serviço até o décimo-segundo piso, e depois mais um lance de escadas que leva a um andar de pé-direito mais baixo, onde estão as dependências do porteiro e a caixa d’água. Em seguida se ultrapassa uma porta com uma caveira preta, que dá para uma sala com toda a maquinaria dos elevadores. Roldanas grandes e barulhentas, um equipamento digno do século dezenove, e bastante compatível com a pachorra que move o elevador social. No fundo dessa sala tem uma porta de metal que dá pra fora, pra um telhado de zinco e um caminho estreito de cimento que leva até uma escada de degraus de ferro, alças na parede.
Escalando-a, chegamos ao décimo-quarto andar. Eu, meu padrasto e uma espingarda de chumbinho. Não sei se se pode chamá-lo de andar. Era em formato retangular, com uma reentrância quadrada num dos lados maiores, como seria a planta baixa de todos os apartamentos se tirassem as paredes. Nós andando e sempre nos desviando pra não tropeçar ou bater a cabeça nas antenas, eram muitas, parabólicas, de tv aberta. Além do chão cinza escuro de fuligem acumulada, e repleto de pombos, muitos pombos. Estávamos ali para matá-los.
A presença constante deles na nossa varanda sempre incomodou meu padrasto, e ele tinha vários métodos pra tentar afugentá-los. Eu sempre achei que fosse uma guerra perdida, mas de uns quatro anos pra cá, seja pela insistência ou por alguma mudança nos fluxos migratórios, os pombos realmente pararam de aparecer. Nunca liguei muito pra eles, mas a oportunidade de subir no terraço do edifício me entusiasmou. Logo eu estava com a espingarda na mão, ansioso e com a mão meio trêmula, mirando num pombo dormindo, dois metros abaixo de mim.
Não sei exatamente onde o tiro pegou, mas não prejudicou muito a aparência externa do pombo. Foi uma transformação sutil, as penas embaralharam um pouco, a cabeça se torceu, e a asa, camuflada junto ao tronco, de repente se revelou. Tirando o estampido da espingarda, foi uma morte seca, quase imperceptível. E que me convenceu a nunca mais atirar em pombos. Não por eu me importar com a morte deles, mas porque fiquei incomodado por o pombo ter tido, naquele momento, muito mais dignidade do que eu.