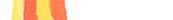Apartamento
Inventei uma teoria: quanto maior a escala de um objeto, menos ele pode ser tocado e dividido com outras pessoas. Uma rua é de todos, qualquer um pode andar nela, tocá-la com as solas dos sapatos. Mas um pixel é intocável. Pixels não tem sequer uma forma concreta, nem seu próprio dono pode encostar nele.
Já telas são tocáveis, mas geralmente só por acidente. Porque ninguém quer correr o risco de deixar uma digital empastelando pra sempre por causa de um mosquito mala. Deus, que se quiser também pode tocar num pixel, encosta em telas sem deixar digitais, mas além dele, a única pessoa que eu perdoaria por encostar na minha sou eu mesmo.
Computadores são tocáveis. Alguns são públicos, são manipulados por centenas de crianças carentes de escolas estaduais que dividem um único; mas no meu, só mexo quase que eu. Umas poucas outras pessoas garimparam ao longo da vida o direito de usá-lo brevemente em emergências, mas ainda assim sob minha supervisão.
Meu quarto é muito mais tocável que meu computador. Meus amigos todos praticamente já o fizeram, meus familiares, e se ainda não estiveram aqui estão desde já convidados. Qualquer um com que haja uma mínima intimidade tem liberdade pra circular no meu quarto, a menos que sejam duas horas da manhã, ou sete, ou eu queira escutar música e ler um livro do Calvin sozinho.
As regras que valem para o quarto valeriam também para a escrivaninha, diria alguém, que está um degrau abaixo na escala mas oferece as mesmas liberdades e restrições. Furo na teoria? Não. Eu posso impedir alguém de tocar na minha escrivaninha sem ofendê-lo, se estiver por exemplo montando um quebra-cabeças de mil e quinhentas peças, com as bordas já todas encaixadas e o resto separado em montinhos de cores iguais. Eu posso colocar um recado dizendo pra empregada, não mexa, pra que ela não arrume a minha bagunça meticulosamente organizada, posso deixar esse recado fossilizar por meses, as peças de quebra-cabeça embaralhando com os fios do computador e os cds pra transformar em mp3. Mas não posso impedí-la de entrar no meu quarto por tanto tempo, pois mesmo que eu me dispusesse a passar aspirador e pano úmido, estaria impedindo-a de ir até a varanda (ou, dependendo de onde ela estivesse quando me baixasse o exu fascista, acabaria presa na varanda pelo resto da vida).
Meu apartamento é o último reduto em que posso cersear a passagem dos outros. Depois dele, adeus. No prédio, por mais que se estranhe um mendigo bêbado na portaria, não posso expulsá-lo: pode ser, ainda que improvável, convidado de um vizinho, um parente mal de vida, um irmão gêmeo recém-descoberto. Na rua, o mendigo deixa de ser exceção, vira regra, e outros tipos podem causar estranhamento, sem que tenha o menor cabimento enxotá-los de um espaço público: um corcunda, o Romário e o homem-elefante podem despertar pena, furor ou asco, mas nos resta respeitar seus direitos de ir e vir.
Aqui dentro posso barrá-los. Ainda que eu seja só uma voz entre quatro pra decidir, e já tenha tido que engolir muita visita chata, especialmente os pedreiros que fazem obra nos andares de cima e têm que vir sempre no fim do dia pra limpar os restos de terra e caco de azulejo que deixam cair na nossa área de serviço. Mas se eu cismar, posso engolir a chave, e impedí-los de entrar no meu apartamento. Mesmo que esse pronome meu, do apartamento, esteja aí em sentido figurado, pois não sou eu quem paga o IPTU e a conta de luz. Quem paga é a minha mãe, e pensando bem, como o apartamento é dela e a mãe é minha, acaba que o apartamento é meu por uma questão de vassalagem.